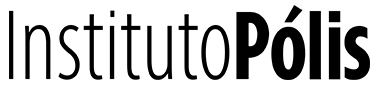notícias
Cinema de rua deve ser protegido: o caso do Belas Artes em São Paulo
20/01/2011Por Paula Freire Santoro
Começo de ano e a polêmica se instaura: o dono do imóvel onde funciona hoje o Cine Belas Artes pede o imóvel e diz que tem proposta de aluguel maior, para outro uso.
Isso não é novidade. Nas décadas de 1950 e 1960, São Paulo tinha cinemas espalhados por quase toda a cidade, inclusive na periferia, dentro de favelas. O cinema era para todos e, até por isso, se diferenciava: no Centro, salas lançadoras, com inovações tecnológicas, a ida ao cinema era um passeio; na periferia e bairros, salas de bairros. O público do cinema na cidade também atingiu seu ápice em 1960 com uma relação de vinte idas ao cinema por habitante por ano em uma população de quase três milhões de habitantes. A febre do cinema era tão grande que haviam salas improvisadas na periferia, como o Cine Brasilândia (1953) ou o Cine São Luiz na Favela Vergueiro.
[1]
[2]
[1] Manchete do Jornal Última Hora de 1953 anuncia: “Cine Brasilândia: paixão pelo cinema na década de 50 em São Paulo transformava galpão em sala de exibição” (Fonte: Arquivo Multimeios/Centro Cultural São Paulo, 2004).
[2] Cine São Luiz na Favela Vergueiro. Diz-se que nesta favela havia um especulador que além de lucrar com o aluguel dos barracos e cobrar pelo fornecimento de luz (ilegal), possuía um empório e um cinema dentro da favela, pois este era considerado um negócio lucrativo (Abujamra, 1967, p.31).
A década de 1970 marca uma transição no modo de vida urbano – abertura dos shoppings, a mudança do modo de vida baseada no carro, na ideia de “segurança”, “exclusividade”, etc. – e, principalmente, na dinâmica dos usos do Centro. A opção por usos mais rentáveis matou o cinema de rua, que majoritariamente ocupava edifícios alugados. A tal ponto que não sabemos que São Paulo teve uma Cinelândia! (Para saber mais sobre a Cinelândia, veja artigo aqui: https://www.polis.org.br/download/256.pdf). Matando o cinema de rua, matamos junto o de bairro. O público só diminuiu e na década de 70 atingimos o índice de três idas ao cinema/hab/ano em média. Trocamos o cinema pelo consumo, o passeio é fazer compras, ir ao shopping.
As salas do Centro sofreram a mudança do bairro, que passou a concentrar escritórios, e, embora o uso habitacional tenha permanecido, sofreu com a migração da classe média para outras áreas da cidade.
Mas nem todas as salas do Centro viraram grandes magazines, estacionamentos ou igrejas. Algumas permaneceram e se transformaram: a boca do lixo, o cine pornô, deram (e dão) vida à este pedaço de cidade.
Também as poucas salas remanescentes ficavam geralmente em galerias, próximas à região da Paulista, onde a vida nas ruas ainda é presente, a tolerância à diversidade existe e a cultura urbana se exacerba.
Resistem à duras penas e sem organização frente a uma avalanche de mercado imobiliário e da lógica da rentabilidade que quer “limpar” outros modos de vida que existem na cidade. Seja mediante projetos urbanos ou pequenas decisões imobiliárias por maior rentabilidade como esta, quer-se esconder as vidas urbanas embaixo do tapete, como se fosse possível uma cidade apenas feitas de shoppings, supermercados, condomínios fechados, carros, vidros fumê blindados.
É preciso proteger e valorizar usos menos rentáveis. E, no caso, o cinema, em São Paulo, faz parte da cultura urbana mais paulistana. Mas como fazer isso? Há várias formas e momentos possíveis.
Um deles é proteger o uso menos favorecido por meio de decisões públicas: que o uso dado ao imóvel seja um cinema! Isso pode ser pensado no plano diretor e do zoneamento da cidade, de forma criativa, procurando não engessar o edifício. Mas, no momento atual, o tombamento do “uso” do edifício de cinema, como patrimônio urbano paulistano, é possível e parece o mais viável e que deve ser considerado pelo Compresp ainda nesta próxima terça-feira. Nesta direção, vale a pena ler interessante artigo do Prof. Nabil Bonduki que apoia este tombamento e mostra algumas decisões públicas relativas à cobrança de IPTU do ingresso e de abrir a possibilidade de preservar o uso de um edifício através do Plano Diretor Estratégico de São Paulo (ver artigo aqui).
Na outra direção seria que os espectadores, ao escolherem qual sala ir, variassem suas escolhas, fazendo da sua ida ao cinema uma decisão consciente e evitando que, pela lógica de consumo, exista apenas um modelo de cinema: o das salas emshoppings centers. Se são, na opinião de alguns, as melhores salas as que tem o melhor som, a melhor pipoca, o melhor estacionamento, para outros, o melhor é ir à pé ao cinema mais próximo; há cinéfilos que apreciam um bom filme, mesmo que a sala seja num lugar difícil de estacionar… Além disso, é conhecida a grade de filmes que passam nestas salas de shoppings que nunca (ou quase nunca) retomam clássicos do cinema ou apresentam filmes não comerciais, alternativos. A inexistência de lugares para exibição de filmes não-blockbusters é fundamental para a permanência do cinema criativo, novo, inteligente.
Mas, sim, há tantos outros temas a serem considerados, que aqui só dou umas pinceladas a partir dos debates que já aconteceram.
Ao lutarmos pela permanência do Cine Belas Artes como símbolo da permanência do cinema de rua, estamos apoiando um negócio privado de uma empresa que administra o cinema e que tem condições de mantê-lo sem recursos públicos a mais (inclusive, o Belas Artes parece já possuir patrocínio privado). Não estamos lutando para que os governos dêem recursos para este cinema, mas sim para a permanência deste uso neste lugar da cidade.
A TV não destruiu o cinema na década de 1950, nem tampouco, o vídeo VHS, o DVD, o Blue-Ray, a TV a cabo… Estas novas mídias e tecnologias têm modificado o cinema, mas a atividade ainda resiste, mostrando que há público para todas estas inovações. No caso paulistano, faz parte do modo de vida urbano e existe desde o início do século.
Marcar com reserva de uso um imóvel só tem sentido se este estiver cumprindo uma função social. Como é o caso das Zonas Especiais de Interesse Social, que são marcadas sobre áreas onde se quer prioritariamente fazer habitação de interesse social, de forma a garantir espaços onde, pela lógica de mercado, não haveria lugar para este uso. Portanto, marcar o edifício para ser utilizado como cinema é reservar espaço onde já não há, e por isso, só tem sentido acontecer se for do interesse coletivo e público.
Infelizmente, este é um tema de interesse mais das classes médias e altas que frequentam este cinema do que das classes mais empobrecidas. Até por isso, há menos resistência por parte dos gestores em tomar medidas mais rapidamente. A periferia já teve muitas salas de cinema, o interior do Estado de São Paulo também, e as salas fecharam, por diversos motivos. Mas, por outro lado, não sejamos inocentes. Se por um lado, dar oportunidade para os mais pobres irem ao cinema passa pela oferta de salas, e os equipamentos da periferia paulistana mostram isso. Por outro, a vida dos que vivem distantes das áreas centrais precisa mais do que isso para ir ao cinema: precisam não perder tantas horas de seu dia no transporte público, de recursos financeiros, precisam ter com quem deixar os filhos, entre outros. Levar a cultura e lazer para todos deve ser um objetivo sempre e que envolva políticas de mobilidade, econômicas, associadas às de cultura e lazer.
O cinema já foi mais e menos (ou menos e mais) emblemático de uma cultura brasileira. Sim, poderia ser mais, poderia ter mais espaço para a produção local ou talvez compartir mais com a cultura do entretenimento.
Como bem disse Ruy Castro, um cinema de rua que fecha é uma calçada, um pipoqueiro e uma fila a menos numa cidade (grifo meu). Um lugar de encontro a menos.