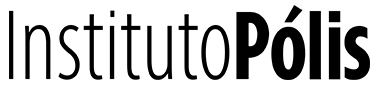20 anos do estatuto da cidade: entrevista com raquel rolnik
No dia 10 de julho deste ano, o Estatuto da Cidade, a principal lei de regulamentação da política urbana, completará duas décadas. Para celebrá-la, convidamos pessoas que fizeram parte de sua história e mobilizaram-se para que ela fosse aprovada. Vejam a seguir a entrevista que fizemos com Raquel Rolnik, à época coordenadora de urbanismo do Instituto Pólis:
Como você descreveria os momentos que antecederam a aprovação do Estatuto da Cidade? Quais eram os desafios e expectativas ali presentes?
Na verdade, houve um longuíssimo processo de discussão e negociação para chegar até o Estatuto da Cidade. Esse processo remete desde ali, no processo da Constituinte, onde aquilo que se desejava no âmbito do Movimento pela Reforma Urbana, que era uma constituição que garantisse a função social da cidade e da propriedade, que tivesse instrumentos de enfrentamento do uso da cidade como extração de renda, aquilo que a gente chama de especulação, que pudesse regularizar e eliminar a diferença entre os territórios populares, auto produzidos da cidade, e eliminar os processos discriminatórios aos que esses espaços estão sujeitos, permanentemente, era essa a expectativa, e essa expectativa já encontrou, desde a Constituição Federal, uma resistência muito grande. Uma resistência, de um lado, digamos, do Centrão, alguém que não podia nem ouvir falar na ideia de função social da cidade e da propriedade muito claramente. Uma resistência de natureza ideológica, de defesa da propriedade, de defesa do modelo hegemônico proprietário e da violência proprietária. Mas, também, uma resistência tecnocrática, que tem a ver com a tradição do planejamento urbano, a tradição tecnocrática do planejamento urbano. Deste encontro, saiu a solução da Constituinte. A solução da Constituinte foi: primeiro, jogar para frente a necessidade de uma lei federal e, segundo, vincular a aplicação dos conceitos da função social da cidade e da propriedade, das sanções contra retenção especulativa, aos planos diretores e ao planejamento urbano. Então, isso condicionou o processo de debate e de construção do Estatuto da Cidade. Condicionou no sentido de definir a linguagem da construção do Estatuto, ou seja, é uma linguagem que trabalha, basicamente, com os instrumentos clássicos e históricos do planejamento urbano, dos planos diretores, e que – isso a gente pode dizer, hoje, muito claramente – eles foram desenhados e definidos por e para o mercado imobiliário. Eles dialogam com as morfologias e os produtos imobiliários produzidos por este mercado. Então, essa questão já apareceu na discussão do Estatuto da Cidade. Ao mesmo tempo, também, para discussão do Estatuto da Cidade, como demorou muito tempo (entre 88 e 2001), nos anos 90, a gente tem um outro paradigma, no campo do planejamento urbano, que emergiu com muita força, que é o paradigma neoliberal. A ideia da desregulamentação, a ideia da diminuição do papel e do protagonismo do Estado na condução da estrutura urbana, na condução do processo de desenvolvimento urbano, a abertura para ideias de parcerias público-privadas. Então, o Estatuto da Cidade já é um produto dessas várias posições, ou seja, é um produto das tensões, pressões e reivindicações que vem do Movimento Pela Reforma Urbana, mas, também, no encontro com uma tradição tecnocrática e imobiliária do planejamento urbano, e com novos paradigmas de planejamento que vieram com toda a nova hegemonia neoliberal no planeta, nas cidades, no urbanismo e nas políticas. Então, isso também acabou condicionando a natureza do Estatuto.
Em 2001, a gente já tinha feito movimentos importantes a nível local, experiências importantes a nível local, e o Estatuto da Cidade era uma espécie de passaporte, enquanto não tivesse a tal da Lei Federal, nada daquilo poderia ser implementado. Então, a Lei Federal era meio ‘para limpar a área e poder realmente implementar’. Dessa forma, o Estatuto da Cidade foi celebrado com muita importância. Mas, também, a partir daí, inaugura-se um processo de disputa sobre a leitura do Estatuto e os seus instrumentos, para o que servem e como devem ser implementados.
Na época você era coordenadora de urbanismo do Pólis. Qual foi a participação de coletivos, movimentos e organizações sociais na aprovação do Estatuto?
Eu era coordenadora de urbanismo do Pólis, quando aconteceu a aprovação, e nós imediatamente nos organizamos justamente para disputar uma interpretação de uma forma de uso do Estatuto da Cidade. Então, foi muito importante. Naquele momento, nós conseguimos um apoio da Caixa Econômica Federal para poder publicar o Guia do Estatuto, tinha uma equipe mais no campo jurídico, coordenada pelo Nelson Saule, e a equipe urbanística, coordenada por mim. Nós escrevemos um Guia do Estatuto da Cidade, esse guia foi bem importante para trazer uma interpretação do conteúdo do Estatuto e fazer isso circular amplamente pelo Brasil. Depois, nós investimos num kit de Estatuto, num kit das cidades, para poder aprender a usar o instrumental do Estatuto, e isso foi um trabalho muito interessante, porque nós usamos uma pesquisa que tínhamos desenvolvido no âmbito de uma chamada de políticas públicas da FAPESP e nós fizemos uma pesquisa sobre formas de desenvolvimento urbano no estado de São Paulo e a relação disso com a regulação urbanística e, eu me lembro, nossos casos eram: Diadema, Limeira e uma cidade do litoral também, acho que era… Guarujá. A partir das conclusões que nós tivemos, de quais eram as questões, quais eram os conflitos, quais eram os temas nessas cidades, nós conseguimos montar um material de capacitação sobre o Estatuto que incluía um jogo, um vídeo, o Guia do Estatuto da Cidade (que a gente já havia feito), cartilhas. Enfim, foi um kit, um material muito rico. Nós conseguimos, também, com vários parceiros, através de várias parcerias, publicar e produzir mil, dois mil desses kits. para distribuir muito amplamente pelo Brasil, tanto para equipes de governos locais, como também para movimentos sociais, entidades profissionais… Foi um envolvimento muito intenso na ideia de disseminar esse conteúdo, mas, sobretudo, disseminar uma certa leitura deste conteúdo.
Pouco tempo depois, você foi secretária do Ministério das Cidades. Como foi a experiência de participar do planejamento e desenvolvimento das políticas previstas pela lei?
Uma das questões que eu mais me envolvi como Secretária de Programas Urbanos, foi promover a formulação de planos diretores participativos e, aí, de novo, aprendendo com o que a gente havia conseguido fazer no Pólis e conseguindo fechar, de novo, uma parceria com a Caixa, nós também montamos uma enorme estrutura de capacitação nacional assim, um programa mesmo, com kit para os planos diretores. E, aí, de novo, tentando disputar a ideia de um plano diretor como um pacto radicalmente participativo na cidade onde a disputa se explicitasse no espaço público e onde os historicamente excluídos pudessem, de fato, intervir no processo de debate.
Eu diria que essa experiência de elaborar os planos diretores. Ela, de um lado, mostra a potência de se pensar processos como esses, mas, ao mesmo tempo, os limites muito claros que esses processos têm. Limites que vêm do próprio fato de que o processo de elaboração dessas discussões sobre modelos de cidade já está absolutamente circunscrito e delimitado no interior de uma linguagem e de uma epistemologia do que que é a cidade, para o que ela serve e como ela tem que ser destinada, já, como eu havia dito, muito submetida à linguagem imobiliária e à linguagem dos produtos imobiliários, basicamente. Então, isso também revelou-se um limite muito claro. Revelou-se também o quanto o Estatuto da Cidade era basicamente uma discussão, digamos, metropolitana, das grandes cidades, e pouco dialogava com os pequenos municípios do interior e suas questões. Acho que isso também foi muito claro. Esbarrou também na dimensão metropolitana, toda a ideia do plano diretor municipal, é uma ideia de um município com carreira solo e isso não existe nas regiões metropolitanas. Enfim, acho que essa experiência mostrou potenciais, mas também mostrou limites muito grandes. Ao mesmo tempo, promoveu processos de debates pela primeira vez, em cidades que viveram processos de debate sobre seu futuro que nunca tinham vivido. Enfim, eu acho que também experiências múltiplas e interessantes no país.
Simplesmente, logo depois da campanha nacional dos planos diretores, vieram os investimentos mais pesados, inclusive para o urbano através do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] e do Minha Casa, Minha Vida. Esses investimentos infelizmente não estabelecem nenhum tipo de diálogo com aquele esforço que havia sido feito de se pensar planos diretores e interviram nas cidades, digamos, passando completamente por cima dessa frágil e parca tentativa de planejamento territorial.
De 2001 para cá, quais são as mudanças visíveis? Você acha que as cidades de hoje são, de fato, mais democráticas do que as do passado?
É uma pergunta complexa, né. Eu acho que esse era o DNA do Pólis, apostar na ideia da participação, na radicalização da democracia e todo trabalho importante de capacitação, de formação, para poder participar de políticas públicas, acho que a gente viveu um ciclo de participação, mas esse ciclo encontrou um limite muito claro na natureza dos processos decisórios que acontecem sobre o destino das cidades no Brasil, muito condicionados por um diálogo entre os grandes setores empresariais que têm o interesse direto no urbano: as concessionárias de serviços públicos, os loteadores, os incorporadores imobiliários, os grandes empreiteiros de obras públicas, na sua relação com o Estado.