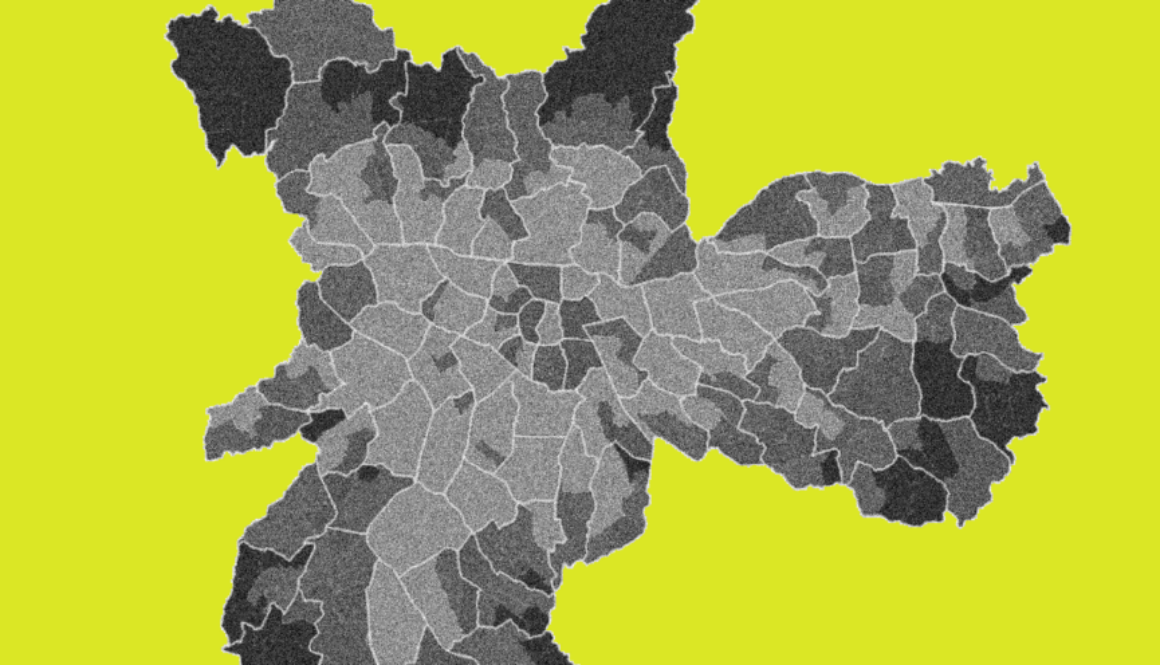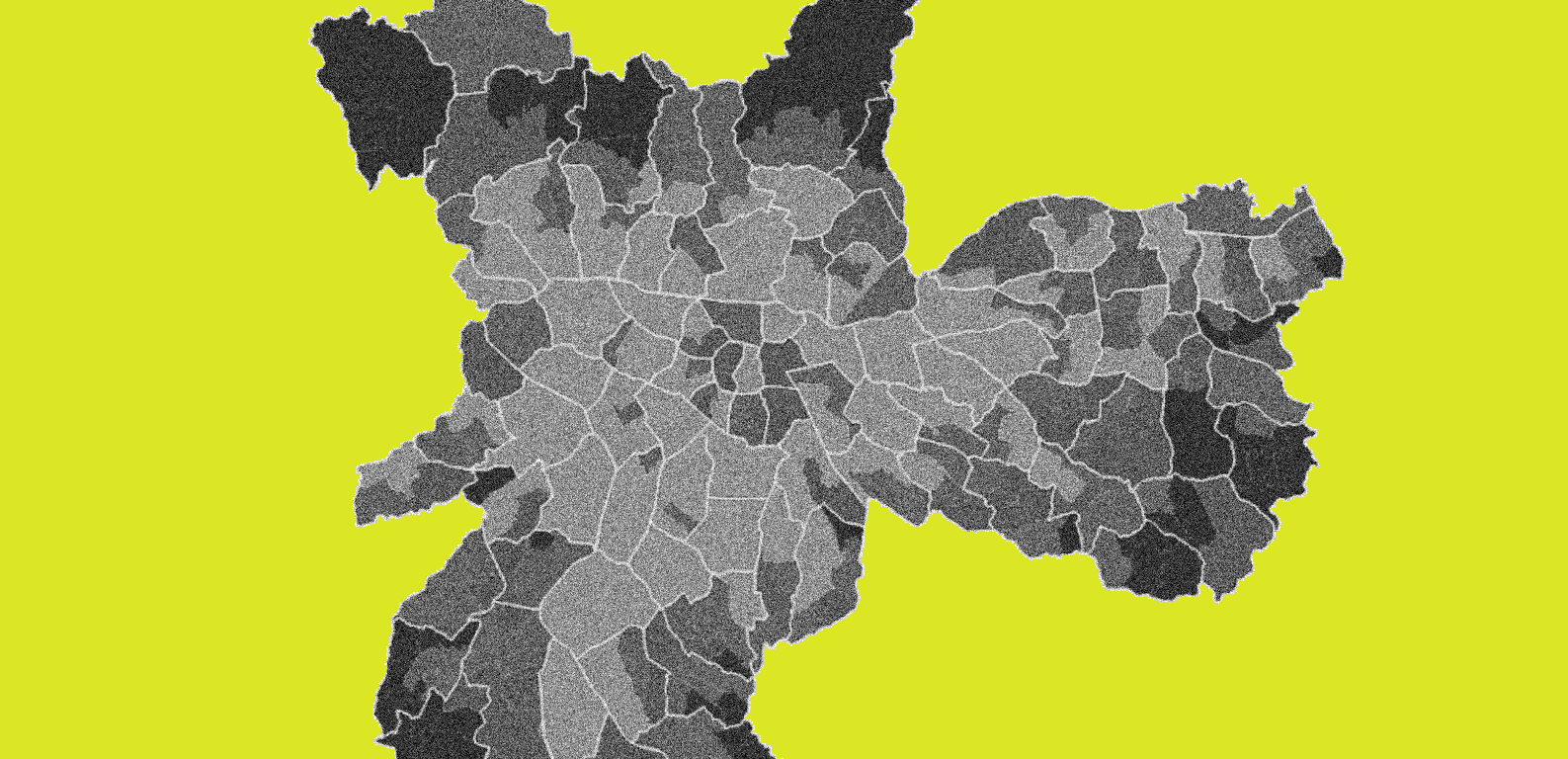a juventude brasileira quer trabalho decente e não mais precarização do trabalho
A crise econômica e a má condução no enfrentamento da pandemia de covid-19 trazem graves consequências para a juventude brasileira em todas as dimensões da vida social, inclusive em suas possibilidades de inserção em um trabalho decente: as taxas de desemprego, a precariedade dos vínculos e a desistência na busca por trabalho explodem, sobretudo, entre os segmentos juvenis mais pobres, entre as jovens mulheres, as pessoas negras e moradoras das periferias.
É nesse contexto que surge mais uma tentativa de fazer passar a boiada. Dessa vez a proposta do governo é retirar direitos trabalhistas e, mais uma vez, transferir os custos da crise para a juventude que busca seu lugar no mercado de trabalho.
A Medida Provisória nº1045, que institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, vem sendo apresentada como uma estratégia para enfrentar a piora de todos os indicadores de acesso e permanência no trabalho.
No entanto, as modificações feitas no texto dessa Medida transformam a proposta num perigoso mecanismo de degradação das condições de trabalho, atingindo duramente o sistema de direitos trabalhistas e de acesso à justiça do trabalho, principalmente por incluir, sem nenhum diálogo social, dois novos programas: o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego (PRIORE), que reedita as propostas da “carteira verde-amarela”, já rejeitada pela sociedade e pelo parlamento brasileiro, ) e o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva (REQUIP), uma nova modalidade de trabalho para jovens de 18 a 29 anos que, embora travestida de qualificação profissional, é totalmente desprotegida, e afronta toda a legislação de garantia de direitos da juventude.
Nessa modalidade proposta, o/a jovem não tem qualquer tipo de vínculo empregatício; não recebe salário, mas somente um “bônus de inclusão produtiva” (paga com recursos públicos) e uma “bolsa de incentivo à qualificação” (paga pelo empregador) ambas com valor máximo de R$275,00. O período de férias é trocado por um recesso parcialmente remunerado, o vale transporte também não é pago integralmente e não há recolhimento previdenciário, afetando a aposentadoria.
Trata-se, assim, de uma modalidade de trabalho altamente precarizada, que transforma o/a jovem em “trabalhador de segunda classe”, em uma clara discriminação negativa em função da idade, como aponta nota do Ministério Publico do Trabalho. Isso fere profundamente os princípios do Estatuto da Juventude, que estabelece, no seu artigo 14, que todo jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social.
O preço, no entanto, não é alto apenas para jovens: o Requip funciona com subsídios públicos, ou seja, toda a sociedade custeará um programa que produz vínculos frágeis para o/a jovem que busca emprego. Além disso, diversos estudos já apontaram que há nesse tipo de proposta um risco altíssimo das empresas substituírem seus atuais empregados para reduzir custos com a folha. Dessa forma, podemos dizer que toda a sociedade paga, enquanto poucas empresas efetivamente se beneficiam.
A MP cria outro grave problema, ao praticamente levar ao desmonte da lei da aprendizagem, ferindo gravemente os princípios estabelecidos pelo ECA e pelo Estatuto da Juventude, permitindo que a empresa contabilize o jovem admitido na modalidade do Requip no percentual que deveria ser garantido para a presença de jovens aprendizes – a cota mínima da legislação vigente é de 5% da mão de obra que demanda qualificação profissional. Assim, as empresas poderão deixar de contratar aprendizes, que estariam em condição de trabalho especial e mais protegido, para contratar jovens em condição muito mais desvantajosa, gerando o esvaziamento da cota de aprendizagem.
Sem tomar as medidas que garantam trabalho decente para jovens brasileiros, essa proposta, se aprovada no parlamento e executada pelo governo federal, certamente produzirá uma significativa piora nas condições de trabalho das/os jovens, que hoje já estão entre as maiores vítimas da crise sanitária, econômica, social e política do País. .
As soluções para enfrentar os agravamentos das dificuldades e desigualdades que explodem na sociedade brasileira não podem ser feitas às custas dos direitos e da proteção dos mais pobres e mais vulneráveis, como os jovens em busca de emprego. A juventude precisa de políticas públicas de geração de trabalho e renda, que ampliem suas chances no presente e no futuro, não de falsas soluções que interessam a poucos.
Nós, organizações, redes, movimentos, pesquisadores/as e técnicos/as do campo da juventude defendemos que essa proposta seja rejeitada pelas consequências negativas que engendra, implicando na piora das condições de trabalho de parcelas significativas da juventude. Ao invés de soluções que geram desproteção, é preciso que sejam construídas, com urgência, alternativas concretas que garantam o direito à renda, à formação profissional e ao Anna trabalho decente, em sintonia com o que preconizam o Estatuto da Juventude e a Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude.
Faça a adesão individual ou institucional por meio deste formulário.
Assinam essa nota:
Abong – Associação Brasileira de ONGs
Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa e Informação
Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro
Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA)
CAJUEIRO Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude – Goiânia GO
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Casa Neon Cunha – SBC
CDHEP – Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo
CEP – Centro de Estudos Periféricos /Unifesp
CONEN – Coordenação Nacional de Entidades Negras
Centro de Estudos Bíblicos – CEBI
Coletivo Afroencantamento – Maricá – RJ
Coletivo Acaçá Axé Odô
Coletivo de Terapeutas Solidários
Coletivo Terra Firme/ Russo apr – Ibirité MG
Coral Cênico Cidadãos Cantantes
Criola
Dominicanas de São José
Familia LGBT Horus
FASE – RJ
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
Fórum da Cidadania de Santos
Fórum Social da Baixada Santista
Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos
Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação (UFRGS)
Grupo de Pesquisa JEDS – Juventude, Educação e Sociabilidades
Grupo de Pesquisa GERAJU – Gerações e Juventude (UnB)
GT 13 – Sociologia da Juventude da SBS
INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos
Iniciativa De Olho Nos Planos
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE
Instituto Pólis
ISBET – Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento
Instituto Transformar Shélida Ayana
IPJ – Instituto Paulista de Juventude
Movimento Kizomba
NAMAS7Ê
Nucleo Transmasculinidade Família Stronger
Programa Observatório da Juventude (UFMG/MG)
Rede Conhecimento Social
Rede de Desenvolvimento Quilombola Eparrêi
Rede Escola Pública e Universidade – REPU
Rede Periferica LGBTI Familia Stronger
Sanatório Produções
Observatório das Juventudes – FAE UEMG
Observatório Jovem do Rio de Janeiro/UFF
Oxfam Brasil
Pastoral Fé e Política da Diocese de Campo Limpo
PerifaConnection
Uneafro Brasil
TREM CULTURAL PAULCO DE RUA INTERATIVO
Deputado Federal José Ricardo PT/AM
Deputada Estadual Mônica Francisco – PSOL/RJ
Deputado Estadual Dr Jorge Do Carmo PT/SP
Deputada Federal Áurea Carolina – PSOL/MG
Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG)
Mandata Coletiva do Quilombo Periférico – PSOL/SP
Gabriel Medeiros – Subsecretário da Juventude do Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Adenilson Souza Cunha Júnior – UESB
Adolfo Breder – Escola de Talentos
Agnes Hoy
Akeslayne Maria de Camargo
Alessandro de Souza
Alexandre Piero
Alexandre Ribeiro Rodrigues- UFRGS
Álida Angélica Alves Leal – UFMG
Aline Cardoso
Amanda Linhares
Ana Alice Neves Nunes Ramos- Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade
Ana Cecilia Arruda
Ana Célia Pereira Gomes. DSJ
Ana Sharp – caos.A
André Sobrinho – Fiocruz
Ana Luísa Fayet Sallas – PPG-Sociologia UFPR
Anna Luiza Salles Souto
Ana Paula da Silva (DDSE/UFF)
Anderson Campos – CESIT-UNICAMP
André Lázaro
Andrea Rodrigues Ferro – UFSCar
Andressa Pellanda
Antonio Nery Filho – Coletivo Intercambiantes BR
Any Haline França e Silva – Associação Beneficente São Martinho- RJ
Arnaldo Lobo de Oliveira. Província Carmelitana de Santo Elias
Aurelio do Nascimento
Arnaldo Feiteira Campos Junior
Beto Cury – ex -Secretário Nacional de Juventude
Beatriz Akemi Takeiti – UFRJ
Betânia dos Santos Cordeiro
Bianca Lessa – ISBET
Bianca Pimentel de Sena
Breitner Tavares (UnB-FCE)
Bruna Matos – Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores de MG
Carlos Humberto de Albuquerque Spinelli
Carlos Humberto de Albuquerque Spinelli
Carmem Lucia Teixeira Centro de Juventude Cajueiro Goiânia Goiás
Caíque Diogo de Oliveira
Carolina Moreira Marques
Cássia Caneco – Instituto Pólis
Cássia Janeiro
Carlos Antônio Bonamigo – Unioeste
Carmen Helena Lopes da Silva Gonçalves
Carmen Lucia Bezerra Machado – UFRGS
Carmen Sylvia Vidigal Moraes – Feusp
Carolina Simões Pacheco (UFPR)
Claudia Bandeira
Christiane Mery Costa
Cláudia Ocelli Costa
Clóvis Abreu da Silva
Cristiane Teixeira Lourenço
Conceição Paludo – FACED/UFRGS
Cristiane Batista Andrade -Fiocruz
Elisa Terezinha Bettega
Elisabeth Belisário
Elisety Veiga Maia – MMCC-Pará
Elzira Vilela
Daiane de Araújo Gonçalves
Daniel Souza da Costa
Daniela Alfonsi
Daniela Abreu Matos – UFRB
Daniela Helena Cristina da Silva
Daniella Nogueira – IFMG/Conselheiro Lafaiete
Débora Cristina Goulart – Unifesp/REPU
Denise Pereira Martins
Deolinda Armani Turci – UEMG
Devydd dos Santos Teixeira – Projeto GERMINA
Diógenes Pinheiro – UNIRIO
Dirce Zan
Douglas Belchior
Douglas Bortone
Edinei Messias Alecrim – Universidad Interamericana
Edmar Augusto Semeão Garcia
Elane Novaes
Elaine Rodrigues Dutra da Silva
Elen Linth Marques Dantas
Eliane Ribeiro – UNIRIO
Elisinete Santos Sousa – CEBs Regional Norte 1
Elmir de Almeida – USP
Eric Moura
Eroy Aparecida da Silva – Intercambiantes SP
Fabiola Mônica da Silva Gonçalves (UEPB/GT 03 ANOED/ GT 59 ANPPEP)
Fausta P. Couto (UNEB-BA)
Felipe de Souza Tarabola – USP/UFSCAR
Felipe Freitas
Fernanda Papa
Flávia Ginzel
Flávio da Silva Paiva/ Coletivo Terra Firme BH/MG
Flávio Gonçalves de Oliveira
Francy Júnior – Movimento de Mulheres Negras da Floresta-Dandara
Francisco André Silva Martins – Observatório das Juventudes UEMG
Gabriel Di Pierro Siqueira – Ação Educativa / UFSCar
Gabriel Medina
Gabrielle Cadete – Emancipa Salvadora Lopes
Geovan Bantu
Gustavo Figueiredo – UFRJ
Hamanda Pontes – Universidade de Brasília
Helena Wendel Abramo
Ieda Maria
Inara de Aguilar Costa
Israel Ribeiro Dos Santos UNIME
Jamilly Ayana ( CETEP)
Jorge Luis Trindade da Silva – Província Camelitana de Santo Elias (PCSE)
Jane Santos da Silva – UNIRIO
Jeniffer Cristina Ferreira Justino
Jaqueleide Lima – cidadã
Jéssica Guerreira Gimenes Martins
Joelma Rabelo Matos
Josefa Alexandrina Silva – UNIFAL-MG
Juarez Dayrell
Júlia Érika Moreira Bastos – PPGCS – UNESP/ Marília
Juliana Oliveira de Santana Novais – Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)
Juliana P. Lopes
Junior Trevisan
Kauanne Santos Patrocino
Karoline Rebecka Siqueira Ferreira
Laís Melo Corrêa – UFSCar Sorocaba
Laís Wendel Abramo
Leandro Monteiro – UFF
Leandro Rogério Pinheiro (UFRGS)
Leonardo Souza Santos
Licinia Maria Correa – UFMG
Liana de Paula – Unifesp
Louziane Souza
Lubelia de Paula Souza Barbosa
Lucélia M B Bassalo – UEPA
Lucia Chiyere Ijeoma Udemezue
Lucia Xavier
Lúcia de Cássia Tavares
Luciana Gonçalves de Araújo – Associação Beneficente São Martinho
Luciana Pereira dos Santos
Luís Antonio Groppo – coordenador do GT03 – Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos da ANPEd
Luís Henrique Sacchi dos Santos (UFRGS)
Luis Paulo Bresciani
Mafalda Pequenino
Maíce Figueira
Maria Alice Junqueira de Almeida – Cenpec
Maria Isabel da Cunha
Mary Garcia Castro -Uniao Brasileira de Mulheres (UBM)
Melissa de Mattos Pimenta – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Melissa Tarrão – Pastoral da Juventude e USP
Marcela Coelho Monteiro Esteves
Marcelo Pereira de Almeida Ferreira – UFPA/Castanhal
Marcia Pompermayer – DASDOIDA
Márcio Bernardes de Carvalho – Universidade Tuiuti do Paraná
Marco Antônio Peixoto
Marcos Day ex Coordenador Pj Diocese de Rio do Sul / SC
Marcos Eduardo de Souza Bahia
Marcos José Pereira da Silva – Ação Educativa
Marcos Vinícius Sales – UFF
Marcus Basso (UFRGS)
Mariana Marins de Luna Freire
Marriete de Sousa Cantalejo
Maria Aparecida Mendes dos Anjos
Maria Carla Corrochano – UFSCar/REPU/ GT Sociologia da Juventude da SBS
Maria Clara Bueno Fischer
Maria Cristina de Queiroz Barbosa
Maria D’Alva Macedo Ferreira – NUPEC/UFPI
Maria Neves Souza
Maria Pereira – UFF/ Praga Conexões
Maria Virginia de Freitas
Marília Rovaron – Unesp
Marinete Merss
Mari Polachini – MoCAN (Movimento Contra as Agressões à Natureza)
Mateus Miguel Martins Silva – UJB
Maurício Liberal Augusto
Mirela Figueiredo Santos Iriart/ Trace-Uefs
Miriam Abramovay Flacso Brasil
Mônica Roberta Antonio
Mônica Dias Peregrino Ferreira – UNIRIO
Murilo Amatneeks
Natalino Neves da Silva – UFMG
Nathalie Beghin
Olivia Maria Costa Silveira
Pamella Lima – UFF
Paulo César Rodrigues Carrano – UFF
Paulo Fraga – NEVIDH – UFJF
Pedro de Carvalho Pontual – UNIRIO e CEAAL Brasil
Pérola Campos da Mota Xavier Goulart – Coletivo Benta
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva UFSCar e Ação Educativa
Priscila K. Corrêa
Prof. Alex Goes
Professor Ricardo – Rede Emancipa(educação popular) / Núcleo PSOL-MES
Rafael Queiroz Alves
Rafael Cícero – Rede Ubuntu de Educação Popular / USP
Ramiro Castro- AGETRA
Regia Cristina Oliveira – USP
Regina Novaes – pesquisadora do CNPq
Regina Brunet – Movimento Kizomba
Renata Miranda Mendes
Renato Almeida
Riane Barbosa do Nascimento
Rilton Santos
Roberto Marques – UFRJ
Rodrigo Cardozo
Rômulo Ribeiro de Freitas Junior / UFSCar
Romulo Silva – Sociólogo/Produtor Cultural
Ronaldo Vinicius – CMDJSP
Roque Luiz Sibioni
Rute Vivian Angelo Baquero
Sergio Haddad
Severine C Macedo – Doutoranda PPGEDU/UNIRIO
Sheyla Klicia Silva da Conceição -Cejuve
Shirley Martins vieira de jesus
Sônia Maria de Campos – UFSCar Sorocaba
Sonia Maria da Cunha Mayer
Susana Maria Maia – UFF
Suzani Cassiani
Symaira Poliana Nonato – Professora UFMG
Talita Nascimento
Tânia Mara Dornellas dos Santos –
Tony Sagga
Tadeu Lima de Souza
Tainara Dos Santos Oliveira – Ufscar Sorocaba
Tania Suely Luz Silva Sousa
Tauá Pires
Theo Peixoto Scudellari – UNESP
Tiago da Silva Souza – Centro Paula Souza
Vanderlete Pereira da Silva
Vanessa Carvalho
Vereadora Elaine do Quilombo Periférico/SP
Victória Bassan – Movimento Pedagogia Hip-Hop pela Vida
Vitor Nisida – Instituto Pólis
Xayane Lopes – associação Cristã de moços(acm)
Wellington da Cruz – Ação Educativa
Wellington dos Santos França
Willian Simoes – UFFS
Wivian Weller – Universidade de Brasília (UnB)
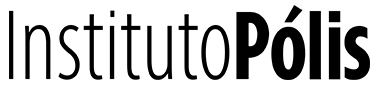


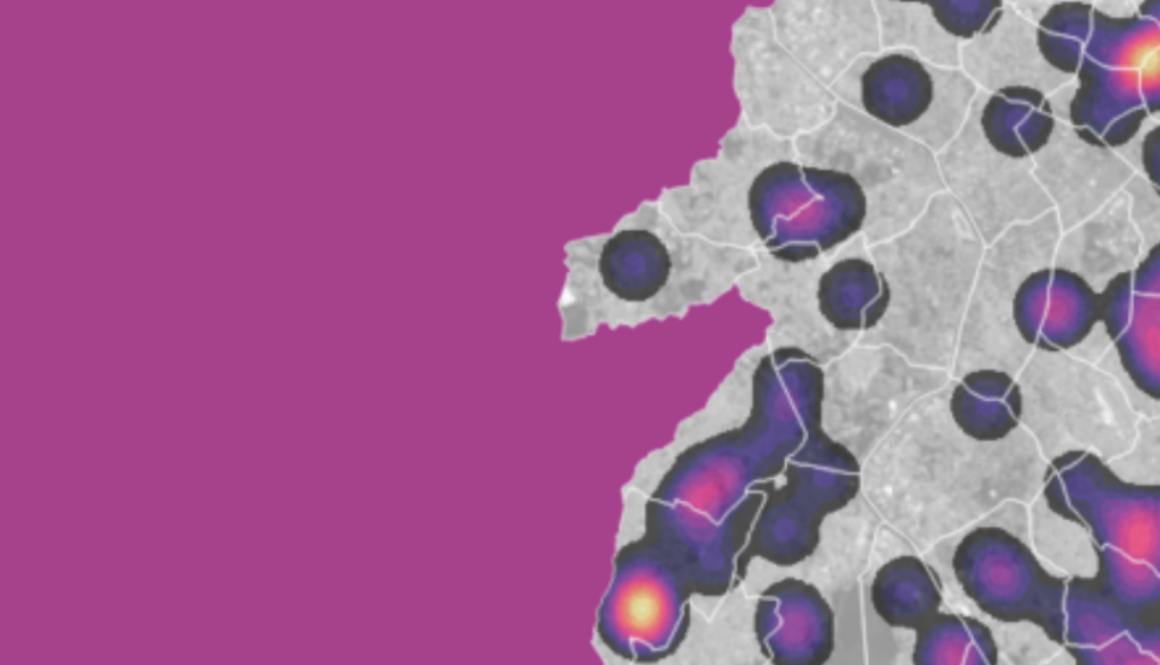
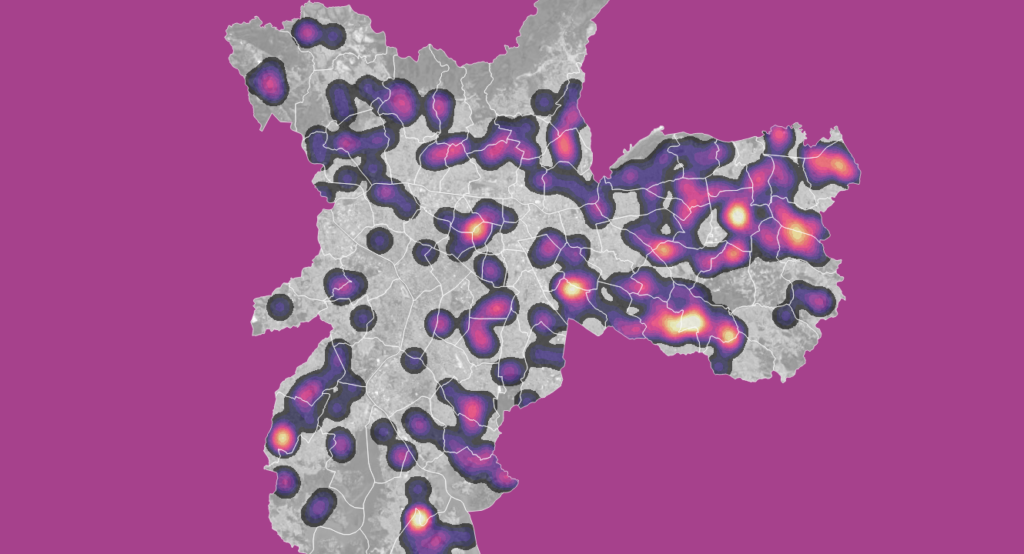

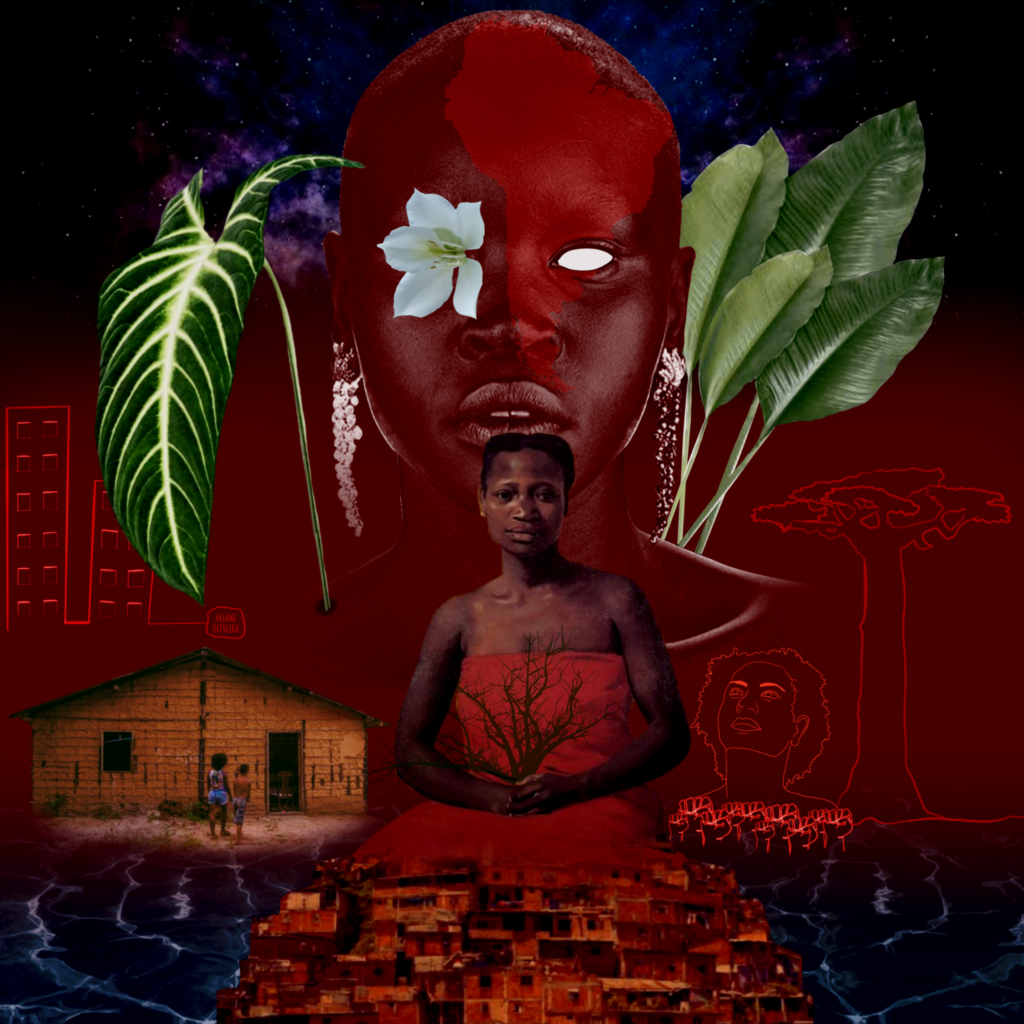 Arte feita por
Arte feita por