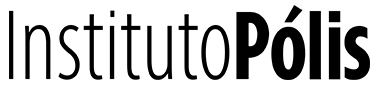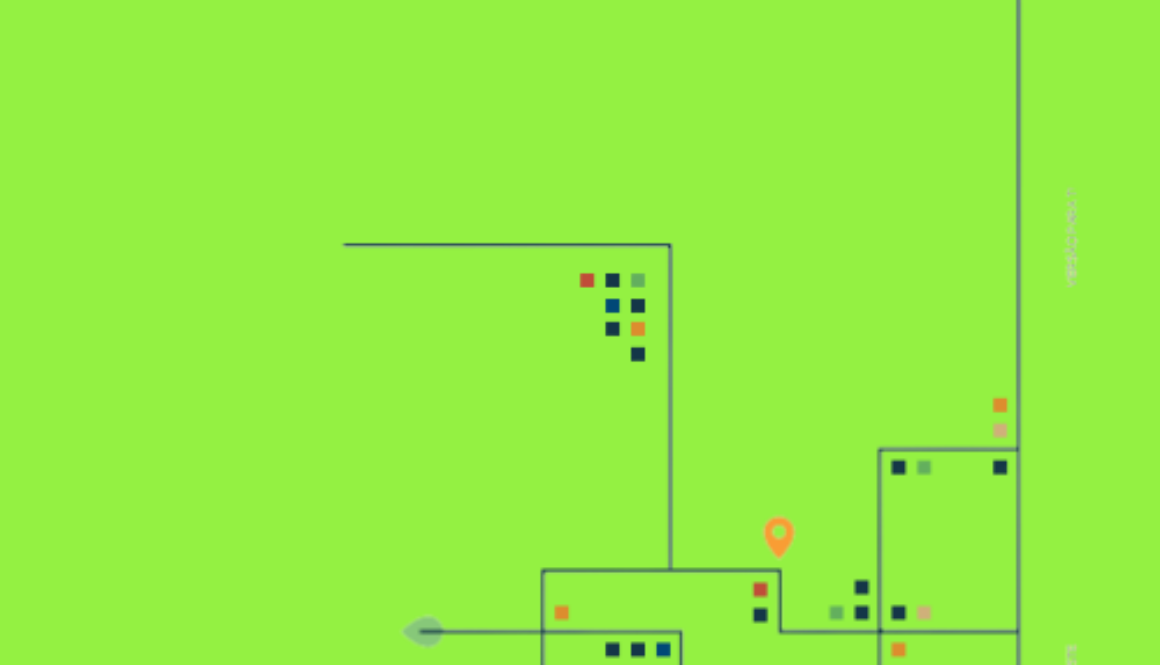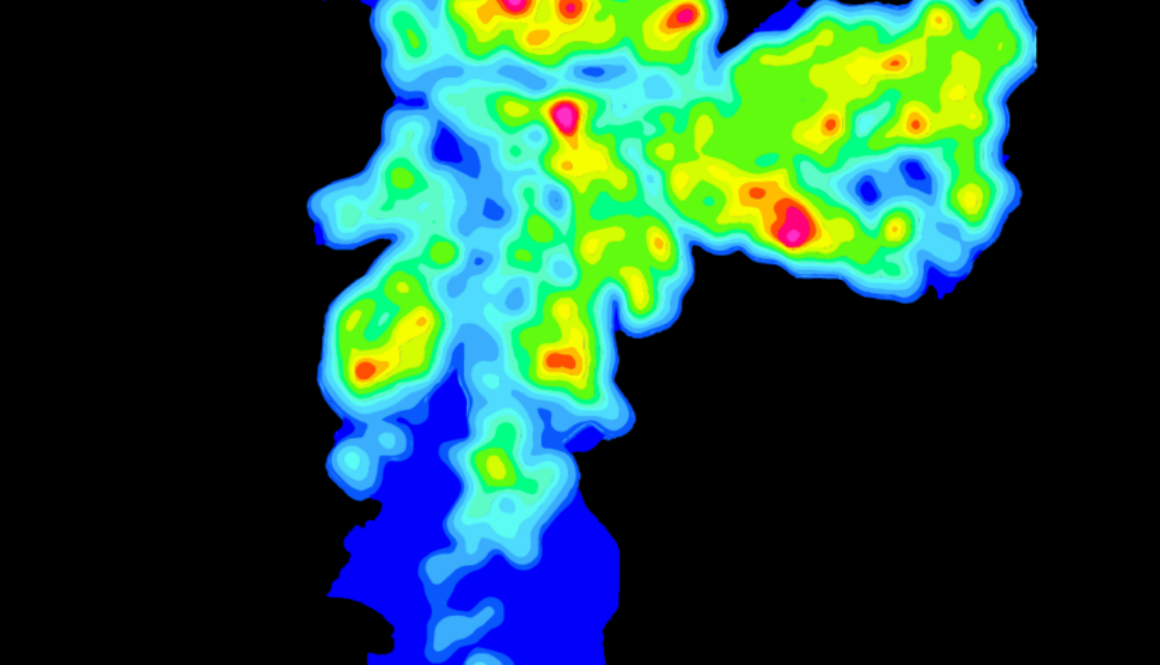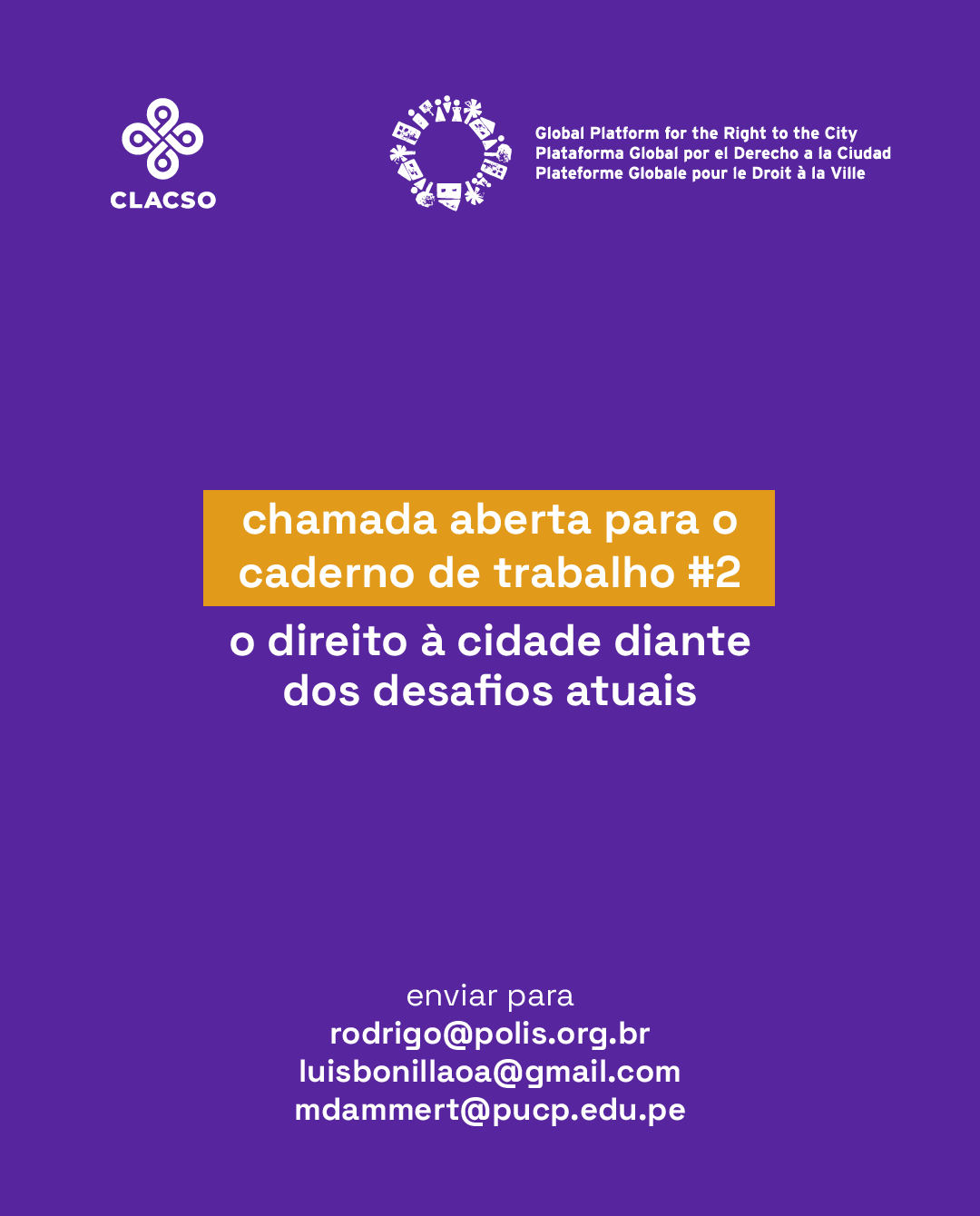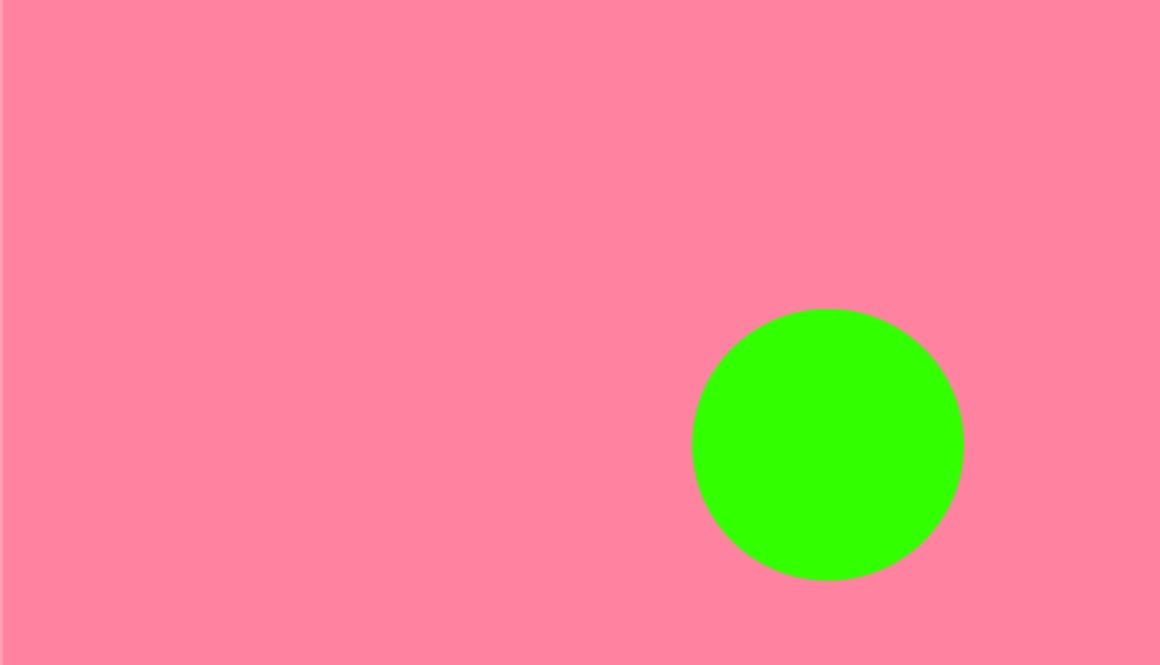guia para elaboração e revisão de planos diretores
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano (SDRU) apresenta a “VERSÃO PARA TESTE” do Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores, concebido como instrumento de apoio a municípios em seus processos de planejamento e gestão do território. Esta publicação é parte do esforço de qualificação da agenda de desenvolvimento territorial no país, conduzido pela SDRU desde a sua
criação em 2019, visando integrar as estratégias de desenvolvimento regional às estratégias do desenvolvimento urbano, e buscar soluções convergentes para os desafios que se colocam, que contribuam para a missão de redução de desigualdades assumida pelo MDR.
Para que isso se realize, a SDRU trabalha em diversas frentes, articuladas por um olhar que enxerga o território como protagonista e motor de transformações efetivas na vida das pessoas. É no território que as coisas acontecem, é do território que emergem as demandas e é no território que se concebem soluções adequadas às diferentes realidades sociais, econômicas e do meio físico, constitutivas e caracterizadoras da identidade de cada lugar.
Conheça o Guia!
O “Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores” pretende ser aliado dos municípios na tarefa de planejar e gerir o território municipal, com um olhar voltado para problemas herdados do passado, e um olhar para o futuro, orientado pela noção de desenvolvimento urbano sustentável. A publicação traz uma nova abordagem, que se propõe avançar a partir da experiência acumulada no primeiro ciclo de elaboração de planos diretores, de novas pautas que emergiram na última década, e da visão multiescalar que permite aos municípios se compreenderem como parte de uma rede e, dessa forma, tomarem as melhores decisões de planejamento e gestão para o seu desenvolvimento.
O documento disponibilizado neste momento é identificado como “VERSÃO PARA TESTE”, por reconhecer que um trabalho de fôlego, ambicioso em termos de abrangência, deve ser experimentado por um conjunto amplo de atores, em diferentes tipos de municípios, para amadurecer bem, como os bons frutos, e aí sim colher o “status” de material testado. O Guia também proporcionou a criação de um vídeo, que pode ser assistido abaixo.
Esses produtos são frutos da cooperação técnica entre os governos Brasileiro e Alemão, no âmbito do Projeto ANDUS – Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil. É resultado da cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, designada pelo Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha – BMU. A elaboração é do Instituto Pólis.
Faça o download da publicação aqui.